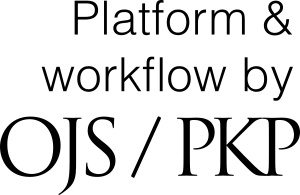Unidades monoverbais e pluriverbais: diacronia e tratamento informático no corpus metalinguístico do português quinhentista
Resumo
Quando se aborda o estudo linguístico de épocas em que a variação atinge a palavra, é indispensável conceituar essa unidade. Considerando que a questão ganha em ser reexaminada no âmbito de uma língua determinada, neste caso o português, na primeira parte do artigo analisam-se os critérios habitualmente retidos ou considerados relevantes na definição de ‘palavra’: menciona-se o nível prosódico como não descurável mas também não susceptível de fornecer critérios decisivos (1.1), discutem-se as definições de Bloomfield (1.2) e de Meillet (1.3), avalia-se a eficácia do critério de impossibilidade de inserção (1.4), tendo em conta o futuro e o condicional (1.4.1) e os advérbios em – ente (1.4.2), depois do que passa a interrogar-se a diacronia (1.5). Considera-se que, na relação entre o português e o latim a nível do vocábulo, são discerníveis três derivas: a permanência do vocábulo lexical (1.5.1) que, no plano fonológico, se caracteriza pela impermeabilidade ao contexto, o que atesta a mobilidade da palavra (1.5.1.1); a consolidação da alomorfia contextual, que afecta, artigo e pronome e outros morfemas dependentes (1.5.2) e a caducidade do vocábulo funcional (1.5.3), em parte substituído por unidades pluriverbais, em que frequentemente se dão fenómenos de gramaticalização e em que se distinguem gradações de diversos tipos (1.5.3.1). Na segunda parte indaga-se sobre o modo como se projectam os conteúdos definidos anteriormente nos textos dos gramáticos e ortógrafos quinhentistas: depois da caracterização do corpus e da síntese do tratamento informático a que este foi submetido (2.1), aborda-se o delineamento do percurso que vai da palavra gráfica à palavra propriamente dita, explicitando os princípios metodológicos aplicados (2.2). São passados em revista diversos tipos de delimitações (2.2.1): rupturas (2.2.1.1), junções simples (2.2.1.2), junções com elisão ou crase (2.2.1.3), a que se segue a descrição da introdução e do uso do apóstrofo (2.2.1.4) e do traço de união (2.2.1.5). Na terceira parte são definidas identidades e diferenças entre palavra e unidades pluriverbais; começa-se por uma retrospectiva crítica (3.1) sobre a adequação dos diferentes conceitos de palavra às especificidades da sua representação gráfica e às soluções tentadas pelos gramáticos ao longo do período e/ou fixadas na norma gráfica. As unidades pluriverbais (3.2), são tratadas numa primeira vertente, em que se estuda a trajectória que consiste na transformação de unidades pluri- verbais em palavras, e se distinguem diferentes graus de coesão interna (3.2.1); e numa segunda, em que se descreve a trajectória inversa, da palavra à unidade pluriverbal, mediante a selecção dos aspectos mais directamente relacionados com o tratamento informático do corpus (3.2.2).
Referências
Ali, S. 1966. Gramática Histórica da Língua Portuguesa São Paulo: Melhoramentos 6ª ed.].
Bloomfield, L. 1933. Language. London: George Allen [reimp. 1961].
Bourciez, E. 1967. Éléments de Linguistique Romane. Paris: Klincksieck [5.ème éd.].
Câmara, J. Mattoso. 1959. Princípios de Lingüística Geral. Rio de Janeiro: Livraria Acadêmica [3ª ed.].
Câmara, J. Mattoso. 1984. Dicionário de Linguística e Gramática. Petrópolis: Vozes [11ª ed.].
Câmara, J. Mattoso. 1985. História e Estrutura da Língua Portuguesa Rio de Janeiro: Padrão [4ª ed.].
Corpas Pastor, G. 2003. Diez Años de Investigación en Fraseología: Análisis sintáctico-semánticos, contrastivos y traductológicos Madrid: beroamericana.
Cruz, M. L. Segura da. 1987. A norma lexicológica no tratamento do “corpus” de frequência. In: M. F. Bacelar do Nascimento et al Português Fundamental. Vol II, T. I: Inquérito de Frequência. Lisboa: INIC/CLUL, 311-421.
Cunha, C.; Lindley Cintra, L. F. 1984. Nova Gramática do Português Contemporâneo Lisboa: Sá da Costa.
De Mulder, W. 2001. La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype: présentation. Langue Française 130 8-32.
García de Diego, V. 1951. Gramática Histórica Española. Madrid: Gredos [reimp. 1981].
Gómez Asencio, J. J. 2004. Conjunciones, conjunciones compuestas y locuciones conjuntivas en antiguas gramáticas del Español. Revista Española de Lingüística 34 1-37.
Gougenheim, G. 1970. Études de Grammaire et de Vocabulaire Français Paris: Picard.
Gougenheim, G. et alii 1964. L’Élaboration du Français Fondamental. Paris: Didier.
Gross, G. 1996. Les Expressions Figées en Français. Noms composés et autres locutions Paris: Ophrys.
Hermann, J. 1963. La Formation du Système Roman des Conjonctions de Subordination. Berlin: Akademie-Verlag.
Juilland, A.; Roceric, A. 1972. The Linguistic Concept of Word. Analytic Bibliography. The Hague/Paris: Mouton.
Lausberg, H. 1963. Linguística Românica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 974.
Lloyd, P. 1987. Del Latín al Español. Fonología y Morfología Históricas de la Lengua Española Madrid: Gredos, 1993.
Maia, C. Azevedo. 1986. História do Galego-Português, Estado linguístico da Galiza e do Noroeste de Portugal desde o século XIII ao século XVI Coimbra: NIC.
Martinet, A. 1979. Grammaire Fonctionnelle du Français Paris: Crédif/Didier Martinet, A. (Dir.). 1969. La Linguistique, Guide Alphabétique Paris: Denoël Mateus, M. H.; Brito, A. M.; Duarte, I.; Faria, I. H. ; Frota, S.; Matos, G.; Oliveira, F.; Vigário, M.; Villalva, A. 2003. Gramática da Língua Portuguesa Lisboa: Caminho [5ª ed.].
Meier, H. 1990. La etimología iberorromance en el siglo XX. Boletim de Filologia XXXI: 5-20.
Meillet, A. 1921. Linguistique Historique et Linguistique Générale. Paris: Champion reimp. 1982].
Menéndez Pidal, R. 1904. Manual de Gramática Histórica Española Madrid: Espasa-Calpe [16ª ed., 1980].
Mounin, G. 1974. Dictionnaire de la Linguistique Paris: P.U.F.
Nebrija, A de. 1492. Gramática de la Lengua Castellana. Estudio y edición de Antonio Quilis. Madrid: Editora Nacional [1981].
Nunes, J. J. 1956. Compêndio de Gramática Histórica Portuguesa Lisboa: Clássica 5ª ed.].
Paiva, M. H. 2002. Os Gramáticos Portugueses Quinhentistas e a Fixação do Padrão Linguístico. Contribuição da Informática para o estudo das relações entre funcionamento, variação e mudança Vol.I – Objecto e Método; Vol. I – Pré-edições; Vol. III – Índice Geral de Vocábulos. Índices Alfabéticos de Formas de Outras Línguas; Vol. IV – Conclusões. Dissertação de doutoramento. Porto.
Pena, J. 1999. Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico. In: I. Bosque; V. Demonte. Gramática Descriptiva de la Lengua Española Madrid: Espasa-Calpe, III, 4312-4328.
Pereira, M. I. P. 1999. O Acento de Palavra em Português. Uma análise Métrica. Dissertação de doutoramento. Coimbra.
Peyraube, A. 2002. L’évolution des structures grammaticales. Langages 146 46- 58.
Pottier, B. 1976 [trad. esp.]. Lingüística Moderna y Filología Hispánica Madrid: Gredos [1ª ed. fr.: 1968].
Pottier, B. (Dir.). 1973. Le Langage Paris: Retz Quilis, A. 1981. Ver Nebrija, A. de. 1492.
Silva, R. V. Matos 1989. Estruturas Trecentistas, Elementos para uma gramática do português arcaico. Lisboa: Imprensa Nacional.
Williams, E. 1975 [trad. port.]. Do Latim ao Português. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro [1ª ed. ing.: 1961].
Zuluaga, A. 1980. Introducción al estudio de las expresiones fijas Frankfurt-am- Main: Peter Lang.
Downloads
Publicado
Edição
Secção
Licença
Direitos de Autor (c) 2018 Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto

Este trabalho encontra-se publicado com a Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0.