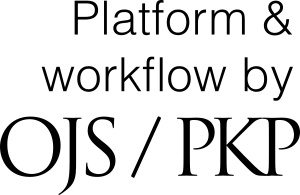Simple nouns as pre-verbal subjects
Abstract
Research on Bare Noun Phrases (BNs) is focused on English and have Carlson (1977) as its origin: the readings (generic or existential) of these nouns depend on the type of predicate they occur with (Kind-, Individual- or Stage-level). Most authors use the Determiner Phrase, including number information, as the key to the readings BNs may get. The D position contains non-checked features which, in European Portuguese (EP), are not checked by Noun-raising to D. According to Oliveira & Cunha (2003), Kind nouns in EP crucially depend on the presence of a definite determiner. Thus, BNs are not Kind Nouns and can never be assigned generic readings. Pre-verbal Subject BNs, though, may occur in EP with Kind- and Individual-level predicates and characterizing sentences – as categorical judgements – getting a non-existential reading by being marked topics. But they also occur, getting an existential reading, in sentences where they are discourse sub-topics in descriptive contexts, like ‘scripts’, in Fillmore’s (1985) sense. The survival of BNs in the pre-verbal position depends on the combination with both Aktionsart values and types of predicates with which they occur. The [+habitual] feature determines the possibility of movement of the subject BN to a pre-verbal (Spec, TP or, as I suggest, TopP) position. This position is non-argumental and thus escapes the government or asymmetric c-command by a verb or a preposition constraint, allowing for a non-existential reading of the noun. The non-checked features in the empty D position are legitimated by a feature in TopP, namely the ‘aboutness’ feature (Reinhart 1981). They are a part of ‘common ground management’ (Bianchi & Frascarelli 2010). They are ‘aboutness topics’ or ‘contrast topics’ (Büring 1999), and they occur in root-sentences or epistemic subordinates. The availability of a non-existential reading of pre-verbal Subject BNs of activity predicates also depends on a parallelism effect: BNs as Objects facilitate a non-existential reading of a Subject BN when occurring with a [+habitual] feature predicate. The topicalization construction, as described by Duarte (1987, 1996), corresponds to the syntactic behavior of BNs in pre-verbal position getting a non-existential reading. In descriptive contexts, BNs occur as sub-topics of a ‘script’ (Fillmore 1985), i.e., they are information resulting from a stereotype situation. According to Abbot et al. (1985), ‘scripts’ are structured in a hierarchy. Lower levels are in a partonomy relation with higher levels. Thus, an explicit or implicit situation allows for the inclusion of low-level explicit information which may not be inferred. They get existential readings and are reconstructed in a post-verbal position. The sentences are thetic judgements. The pre-verbal position makes them prominent and their position in Spec, TP is allowed by an accumulation of events or states or by a logical connection in which there is no lexical connector. The paratactic connection follows from the meaning hierarchic created by the ‘script’. In these cases, when BNs co-occur with the Indicative Present, it does not have a [+gnomic]/ [+habitual] feature.
References
Abbot, V., Black, J. B., & Smith, E. E. (1985). The Representation of Scripts in Memory. Journal of Memory and Language, 24(2), 179-199.
Abney, S. (1987). The English noun phrase in its sentential aspect [Tese de Doutoramento].Massachusetts Institute of Technology.
Bianchi, V., & M. Frascarelli (2010). Is Topic a root phenomenon? Iberia: An international Journal of Theoretical Linguistics, 2(1), 43-88
Brito, A. M. (2003). Categorias Sintácticas. In M. H. M. Mateus, A. M. Brito, I. Duarte, I. H. Faria, S. Frota, G. Matos, F. Oliveira, M. Vigário, & A. Villalva (Eds.), Gramática da Língua Portuguesa (pp. 323-422). Caminho.
Büring, D. (1999). Topic. In P. Bosch, & R. van der Sandt (Eds.), Focus: Linguistic, Cognitive, and Computational Perspectives (pp. 142-165). Cambridge University Press.
Büring, D. (2003). On D-trees, Beans and B-Accents. Linguistic and Philosophy, 26(5), 511-545.
Carlson, G. (1977). A unified analysis of the English bare plural. Linguistics and Philosophy, 1(3), 413-457.
Chierchia, G. (1998). Reference to Kinds Across Languages. Natural Language Semantics,6(4), 339-405.
Contreras, H. (1986). Spanish bare NPs and the ECP. In I. Bordelois, H. Contreras, & K. Zagona (Eds.), Generative studies in Spanish syntax (pp. 25-49). Foris.
Costa, J., & I. Duarte (2002). Preverbal Subjets in null Subject Languages are not necessarily dislocated. Journal of Portuguese Linguistics, 1(2), 159-175.
Crisma, P. (1999). Nominals without article in Germanic languages. Revista di Grammatica Generativa, 24, 105-125.
Cunha, L. F. (1998). Breve análise semântica do progressivo. Cadernos de Linguística, 4.
Cunha, L. F. (2004). Semântica das Predicações Estativas: Para uma Caracterização Aspectual dos Estados. [Tese de Doutoramento]. Universidade do Porto.
Delfitto, D. (2002). Genericity in language: Issues of syntax, logical form and interpretation. Edizioni Dell’Orso.
Duarte, I. (1987). A Construção de Topicalização na Gramática do Português: Regência, Ligação e Condições sobre Movimento [Tese de Doutoramento]. Universidade de Lisboa.
Duarte, I. (1996). A Topicalização em Português Europeu: uma análise contrativa. In I. Duarte, & I. Leiria (Eds.), Actas do Congresso Internacional sobre o Português (Vol. 1, pp. 327-360). Colibri.
Fillmore, C. J. (1985). Frames and the semantics of understanding. Quaderni di Semantica, 6(2), 222-254.
Krifka, M. (2003). Bare NPs: Kind-referring, Indefinites, Both, or Neither?. In R. B. Young, & Y. Zhou (Eds.), Proceedings of Semantics and Linguistic Theory, SALT XIII (pp. 180-203). Cornell University.
Longobardi, G. (1994). Reference and Proper Names. A theory of N-Movement in Syntax and Logical Form. Linguistic Inquiry, 25(4), 609-665.Lopes, A. C. M. (1992). Texto proverbial português: elementos para uma análise semântica e pragmática [Tese de Doutoramento]. Universidade de Coimbra.
Oliveira, F. (1998). Frase Genéricas: Algumas Especificidades do Português. Seminários de Linguística, 2, 5-19.
Oliveira, F., & L. F. Cunha (2003). Termos de Espécie e Tipos de Predicados. In F. I. Fonseca, A. M. Brito, I. M. Duarte, & J. Guimarães (Eds.), Língua Portuguesa: Estruturas, Usos e Contrastes (pp. 57-78). Centro de Linguística da Universidade do Porto.
Raposo, E. P., & M. Miguel (2013). Sintagmas Nominais Reduzidos. In E. B. P. Raposo, M. F. B. do Nascimento, M. A. C. da Mota, L. Segura, & A. Mendes (Eds.), Gramática do Português (pp. 731-732). Fundação Calouste Gulbenkian.
Reinhart, T. (1981). Pragmatics and linguistics: an analysis of sentence Topics. Philosophica, 27, 53-94.
Ritter, E. (1991). Two functional Categories in Noun Phrases: Evidence from Modern Hebrew. In S. Rothstein (Ed.), Syntax and Semantics, Perspectives on Phrase Structure: Heads and licensing, (Vol. 25, pp. 37-62). Academic Press.
Stowell, T. (1989). Subjects, specifiers, and X-bar theory. In M. Baltin, & A. Kroch (Eds.), Alternative Conceptions of Phrase Structure (pp. 232-262). University of Chicago Press.
Szabolcsi, A. (1987). Functional categories in the noun phrase. In K. Istvan (Ed.), Approaches to Hungarian (Vol. 2, pp. 167-190). JATE.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.