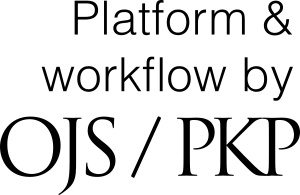O quaijo que xerava bem: um estudo de produções escritas e orais do ditongo <ei> de crianças de dois dialetos portugueses
Resumo
Numa fase inicial da aprendizagem da escrita, os ditongos constituem estruturas complexas que geram dificuldades a diversas crianças. Além de possuírem uma representação com dois caracteres, os ditongos apresentam diferentes realizações fonéticas que parecem interferir na consolidação da forma ortográfica convencional das crianças, conforme o seu dialeto se assemelhe mais ou menos à forma gráfica da estrutura. Partindo da ideia de que, contrariamente ao dialeto setentrional, o dialeto meridional possui monotongação do ditongo /eI/ como [e], o objetivo do presente artigo é o de analisar o comportamento de crianças alentejanas e transmontanas (de Elvas (E), Vila Nova de Santo André (VNSA), Bragança (B) e Chaves (Ch)) do 2.º ano de escolaridade no que diz respeito a esta estrutura. Sabe-se também que a centralização do ditongo ocorre em algumas regiões para além de Lisboa, desconhecendo-se qual o seu efeito na escrita infantil fora da capital. Como tal, serão observadas produções escritas das localidades mencionadas com o objetivo de comparar os resultados com os de Lisboa (L) e Porto (P) do mesmo ditongo, reportados por Rodrigues & Lourenço (2017). Os resultados apresentados referentes à escrita indicam que as crianças do Sul do país (L, E + VNSA) têm mais dificuldade em estabilizar a grafia do ditongo <ei> do que as crianças do Norte (P, B + Ch). A ordem das taxas de acerto é a seguinte: P >> B + Ch >> E + VNSA >> L, o que confirma a existência de possível efeito do dialeto no desempenho ortográfico destas crianças. As formas não convencionais (FNCs) registadas variaram consoante a região dialetal. Nas duas localidades alentejanas, houve preferência pelas formas erróneas <*e>/<*é> e <*ai>, o que permite colocar a hipótese de que, para além da forma monotongada já descrita pelos estudos dialetais, também a forma oral [ɐj] aí esteja presente. Por sua vez, nas localidades de Chaves e Bragança, a FNC <*ai> foi a mais frequente, sugerindo que a pronúncia desta região pode ser [ɐj], além de [ej]. Foram analisadas apenas as produções orais dos alunos que apresentaram FNCs, para tentar compreender se as FNCs adotadas derivavam de uma transposição direta da sua oralidade para a escrita. Os dados da oralidade observados revelaram que (i) há crianças que estabelecem uma relação direta entre forma oral produzida e FNC adotada, (ii) há crianças cuja produção oral e escrita não possuem relação, logo, não existe transposição na escrita da forma oral e, por último, (iii) há crianças cuja produção na escrita e/ou na oralidade varia em função do item lexical. Estes resultados sugerem que a análise da escrita e da fala infantil pode constituir um modo de descobrir novas pistas para o desenvolvimento de trabalhos de natureza sociolinguística de outra envergadura.
Referências
Adamoli, M. A. (2006). Aquisição dos ditongos orais mediais na escrita infantil: uma discussão entre ortografia e fonologia [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal de Pelotas.
Adamoli, M. A. (2012). Um estudo sobre o estatuto fonológico dos ditongos variáveis [aj] e [ej] do PB a partir de dados orais e ortográficos produzidos por crianças de séries iniciais [Tese de Doutoramento]. Universidade Federal de Pelotas.
Andrade, A. (2020). Vocalismo. In E. B. P. Raposo, M. F. B. do Nascimento, M. A. C. da Mota, L. Segura, & A. Mendes (Orgs.), Gramática do Português (Vol. 3, pp. 3239- 3330). Fundação Calouste Gulbenkian.
Andrade, E. d‘.(1981). Uma mudança fonética. In Temas de Fonologia (pp. 31-38). Edições Colibri.
Barbosa, M. (1983). Etudes de Phonologie Portugaise. 2ª ed.: Universidade de Évora. [1.ª ed. 1965, Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar].
Barros, R. (1994). Contributo para uma análise sociolinguística do português de Lisboa: variantes de /e/ e /ɛ/ em contexto pré-palatal [Dissertação de Mestrado]. Universidade de Lisboa.
Boersma, P., & Weenink, D. (2021). Praat: doing phonetics by computer (Versão 6.1.40) [Software]. http://www.praat.org/
Cintra, L. F. (1958). Os ditongos decrescentes ou e ei: esquema de um estudo sincrónico e diacrónico. In L. L. Cintra. (1983). Estudos de Dialectologia Portuguesa (pp. 35-54). Sá da Costa.
Cintra, L. F. (1971). Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses. Boletim de Filologia, 22, 81-116.
Correia, S. (2004). A Aquisição da Rima em Português Europeu - ditongos e consoantes em finaK de síKaba [Dissertação de Mestrado]. Universidade de Lisboa.
Defior, S., & Martin-Martin, G. (2001). De una fotografía a un puzzle: el desarrollo de la escritura en niños españoles. In C. Muñoz (Coord.), Trabajos en Lingüística Aplicada (pp. 637-643). Univerbook Barcelona.
Defior, S., & Serrano, F. (2005). The initial development of spelling in Spanish: From global to analytical. Reading and Writing, 18(1), 81–98.
Fikkert, P., & Freitas, M. J. (2006). Allophony and Allomorphy Cue Phonological Acquisition: Evidence from the European Portuguese vowel system. Catalan Journal of Linguistics, 5, 83-108.
Freitas, M. J. (1997). Aquisição da estrutura siKábica do português europeu [Tese de Doutoramento]. Universidade de Lisboa.
Florêncio, M. (2001). O Dialeto alentejano contributos para o seu estudo. Edições Colibri. Gomes, J., & Rodrigues, C. (2021a). O grafema e o dígrafo : um estudo longitudinal do desempenho ortográfico de crianças de três dialetos portugueses. Linguística - Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto, 16, 39 – 74.
Gomes, J., & Rodrigues, C. (2021b). A escrita de /s/ e /z/ em português: dados de crianças do segundo ano de escolaridade. Revista Linguagem & Ensino, 24(4), 799-824.
Henrique, P., & Hora, D. (2013). Da fala à escrita: a monotongação de ditongos decrescente na escrita de alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. Letrônica, 6(1), 108-121.
Mateus, M. H. M., & Andrade, E. d’. (2000). The phonology of Portuguese. University Press.
Marquilhas, R. (2000). A Faculdade das Letras. Leitura e Escrita em Portugal no séc. XVII. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Martins, A. M. (1985). Elementos para um comentário linguístico do Testamento de Afonso II (1214) [Dissertação de Mestrado não publicada]. Universidade de Lisboa.
Martins, A. M. (1999). Ainda ‘os mais antigos textos escritos em português’: documentos de 1175 a 1252. LindKey Cintra: Homenagem ao Homem, ao Mestre e ao Cidadão. Lisboa: Edições Cosmos, 491-534.
Martins, A. M. (2001a). Documentos portugueses do Noroeste e da região de Lisboa. Da produção primitiva ao sécuKo XVI. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
Martins, A. M. (2001b). Emergência e generalização do português escrito. De D. Afonso Henriques a D. Dinis. Caminhos do Português, Lisboa, 23-71.
Miranda, A. R. (2014). A fonologia em dados de escrita inicial de crianças brasileiras, Lingüística, 30(2), 45-80.
Miranda, A. R. (2020). Um estudo sobre a natureza dos erros (orto)gráficos produzidos por crianças dos anos iniciais. Educação em revista, 36.
Miranda, A. R., & Pachalski, L. (2020). Dados de aquisição da linguagem e sistema pretônico das vogais do Português: fonologia e ensino, Veredas - Revista de Estudos Linguísticos, 24(3), dezembro de 2020, 368-390.
Moutinho, M. L. (1988). Analyse Sociolinguistique du Parler de Porto [Tese de Doutoramento não publicada]. USHS.
Rodrigues, C. (2021, outubro 18-21). Reflexos da oraKidade na escrita infantiK: dados do projeto EFFE-On [Apresentação de Conferência]. Conexão: Variação Linguística e Ensino, Semana Nacional de Letras, Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. https://www.youtube.com/watch?v=mPY0KaSoRLA
Rodrigues, C., & Lourenço-Gomes, M. C. (2016). Estudo longitudinal da proficiência ortográfica no 2.º e 4.º anos de escolaridade - estruturas /e/, /eI/ e /oU/. Revista Diacrítica, 30(1), 115-36.
Rodrigues, C., & Lourenço-Gomes, M. C. (2017, setembro 7-8). Aprender com o erro, ensinar sem erro [Comunicação]. 3.º Encontro A Linguística na Formação do Professor, Universidade do Porto, Porto, Portugal.
Rodrigues, C., Lourenço-Gomes, M. C., Alves, I., Janssen, M., & Lourenço-Gomes, I. (2015). EFFE-On – Escreves como falas – Falas como escreves? [Online corpus of writing and speech of children in the early years of schooling)]. Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL). http://teitok.clul.ul.pt/effe
Segura, L. (2013). Variedades dialetais do português europeu. In E. B. P. Raposo, M. F. B. do Nascimento, M. A. C. da Mota, L. Segura, & A. Mendes (Eds.), Gramática do português (Vol. 1, pp. 85-142). Fundação Calouste Gulbenkian.
Teyssier, P. (1982). História da língua portuguesa. Sá da Costa.
Vasconcelos, L. (1901). Esquisse d’une Dialectologie Portugaise. Instituto Nacional de Investigação Científica.
Viana, G. A. (1883). Essai de Phonétique et de Phonologie de la Langue Portugaise d’après le dialecte Actuel de Lisbonne. Romania, 12(45), 29-98.
Veloso, J. (2010). Primeiras produções escritas e operações metafonológicas explícitas como pistas para a caracterização inferencial do conhecimento fonológico. Cadernos de Educação., (35), 19-50.
Veloso, J. (2019). Assimilação vocálica, coloração e coalescência em sequências V1V2 na diacronia e na sincronia do português: uma proposta descritiva baseada na fonologia dos elementos. In E., Carrilho, A. M. Martins, S. Pereira, & J. P. Silvestre (Orgs.), Estudos Linguísticos e Filológicos Oferecidos a Ivo Castro (pp. 1515-1540). Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL).
Downloads
Publicado
Edição
Secção
Licença
Direitos de Autor (c) 2022 Linguística: Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto

Este trabalho encontra-se publicado com a Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0.